A incrível Substack e seus maravilhosos bens semipúblicos (ou semiprivados)
Tudo o que você queria saber sobre os conceitos de bens públicos e privados e nunca teve coragem de perguntar (ou teve, mas não adiantou muito. Esta pode ser sua última chance!)
Eis o v(1), n(25)! Neste final de semana (neste de quando escrevi isto, claro)1 fui agraciado com a publicidade desta newsletter feita pelos autores das ótimas ASS. e Silly Talks. Quando gente grande te elogia, o peso da responsabilidade aumenta. Pensando um pouco na comunidade Substack, tive uma pequena iluminação e assim surgiu parte da inspiração para o texto de hoje.
A outra parte veio de uma conversa que tive com uma colega de trabalho. Falávamos sobre o significado econômico de bem público durante um evento com uma turma que está obcecada com uns temas malucos como votação quadrática e criptogovernança2.
Resumindo, eis o tema principal de hoje: o Substack e sua relação com os bens privados, públicos e afins. Poderíamos chamar de “Minha aula inicial perdida sobre o conceito econômico de bens públicos para um leigo”.
Conceitos primeiro! - É importante dizer que, na linguagem do economista, bem é algo cujo consumo adicional te deixa mais satisfeito. Obviamente, um mal, tem o efeito oposto. Não é difícil perceber que um produto ou serviço pode ter os dois aspectos. Afinal, uma coisa é a primeira cerveja da noite e, em geral, outra coisa é a 18a saideira.
Dito isto, preciso esclarecer também que bens públicos podem ser produzidos pelo setor privado tanto quando pelo setor público (e um exemplo disto foi mencionado no v(1) n(16)). Isto porque um bem público é apenas um dos tipos de bens resultantes das combinações de duas propriedades que qualquer bem (ou serviço) possui: (a) (não-)rivalidade e (b) (não-)excludência.
O melhor exemplo para se explicar as diferenças entre estes bens está no livro-texto de introdução à economia de Mankiw e é o das estradas. Estradas podem estar lotadas ou vazias (a primeira dimensão) e podem ter pedágios cobrando pelo seu uso ou não (a segunda dimensão).
A estrada lotada não permite que você acelere como poderia se estivesse vazia. A presença de outros motoristas impede o seu usufruto (ou seja, o seu consumo) da estrada. A isto se dá o nome de rivalidade no consumo do bem ou, simplesmente, rivalidade.
O meu relógio de pulso só permite a mim, seu dono, ver o horário (você pode me pedir educadamente e, talvez, eu lhe diga as horas, claro). Já o relógio da torre da prefeitura da cidade diminui a rivalidade no consumo do principal serviço de um relógio que é ser informado do tempo. O relógio de pulso apresenta rivalidade. O da torre, não-rivalidade.
Voltando à estrada, independentemente de ela estar ou não cheia de automóveis, pode haver lá um pedágio. Como se sabe, o pedágio só permite o tráfego, no trecho em questão se você pagar a taxa que lhe cobram. Quem não paga está excluído do consumo do bem, ou seja, não pode trafegar na estrada. Claro, esta é a excludência (ou excludabilidade) do consumo do bem.
Pense na rivalidade e na excludência como propriedades binárias e temos quatro configurações que nos ajudam a criar uma tipologia econômica dos bens. Vejamos cada um deles, começando pelos mais intuitivos.
Bem privado - É o caso da estrada lotada e com pedágio: o consumo é rival e excludente. Ou é o meu relógio de pulso. Ou o meu exemplar de O homem que lia os seus próprios pensamentos.
Bem público - É a estrada vazia (ou com poucos carros, para não te deixar de fora da praia do litoral paulista no final de semana) e sem pedágio, o ar puro ou as letras do alfabeto. O consumo é não-rival e não-excludente.
Agora, os dois outros bens que apresentam um mix das propriedades, e, a meu ver, sai mais interessantes.
Bem de clube3 - É um bem não-rival, mas excludente. A ideia de um clube do bairro com piscina e tudo é imediata. Um clube exclui aqueles que não pagam sua quota e/ou mensalidades. A OTAN é um exemplo. A TV a cabo é outro. Meu consumo da TV a cabo não atrapalha o seu, mas só podemos usufruir de sua (supostamente interessante) programação se pagamos a mensalidade.
Bens de uso comum - É o bem rival, mas não-excludente. Neste caso temos as estradas sem pedágio, mas congestionadas, os peixes no oceano e o meio ambiente. O Direito (no sentido de usufruto da lei), segundo Ivo Gico Jr, também é um bem de uso comum4.
Curiosamente, por anos, o principal livro de introdução à economia, o clássico de Paul Samuelson, usava os faróis (lighthouses) como exemplos de bens públicos porque parecia, de fato, que a sinalização destes aos navios era um bem não-rival e não-excludente. Parece óbvio que os faróis sejam bens públicos? Não é bem assim.
Ronald Coase, estudando como, de fato, operavam os faróis, descobriu que vários deles eram geridos de forma privada. Soa estranho porque, se o bem é não-rival e não-excludente, como alguém poderia cobrar por ele para poder cobrir seus custos e remunerar seus insumos?
Bem, o que Coase descobriu é que donos dos faróis cobravam dos proprietários dos portos (mais próximos). Isto porque, uma vez que a luz do farol salve alguns navios em uma tempestade, por exemplo, eles param nos portos mais próximos e, em geral, fazem comércio por ali5.
De certo modo, este exemplo também nos mostra o quão diversificados podem ser os arranjos para a oferta de um bem. Podemos, sim, faróis serem públicos ou privados. Sem dúvida, entretanto, faróis não são um exemplo incontestável de bens públicos como pensavam Samuelson e alguns outros economistas.
Além disto, mudanças tecnológicas podem alterar as propriedades do bem, diminuindo o custo de excludência. A transformação do entretenimento da TV aberta em um modelo no qual a TV paga e outros serviços de streaming surgiram como opção ao longo do final do século 20 é apenas uma etapa de um processo imprevisível da criatividade humana.
Outro ponto a se observar é que, muitas vezes, bens públicos são ofertados pelo setor privado com o recurso a males públicos. O exemplo famoso (David Friedman o usa em seu Hidden Order, um dos livros que deveriam ter sido traduzidos para nossa língua há anos…) é o dos programas de rádio.
É fácil perceber que um programa de rádio é um bem público e a pergunta inevitável é: como uma estação de rádio financia um programa destes? Óbvio: com patrocínio, ou seja, aquela irritante chamada no meio de uma música ou o comercial no meio do programa de variedades6.
Há alguns anos, o falecido Anthony de Jasay publicou um texto no qual argumentava que a excludabilidade (ou excludência) não necessariamente seria uma propriedade binária7. Na verdade, seu argumento é que o custo de se excluir alguém do consumo de um bem poderia ser dividido no que seria o custo legal (fornecido pelo governo8) e uma parcela que teria um aspecto tecnológico (como o custo privado de se instalar alarmes contra roubos) e outro social (como a humilhação de ser pego roubando uma loja). Estes dois últimos podem variar conforme os parâmetros tecnológicos e institucionais da sociedade analisada.
E o Substack? - Bem, este imenso preâmbulo me traz ao tema central: o nosso Substack. O modelo adotado pela plataforma é o de que escritores podem ter uma base de assinantes que pagam pelos textos e/ou que não pagam. O que é que a empresa vende?
Autores como Pedro Sette-Câmara e Martim Vasques da Cunha adotam modelos em que você pode optar por receber alguns textos (sem pagamento) ou receber os mesmos textos e outros exclusivos (pagos)9. Outros, como o pessoal do Don’t LAI to me, ASS., Silly Talks e esta newsletter usam apenas o modelo de textos não pagos. Como você vê, o Substack (que é uma empresa privada) usa um modelo no qual os autores podem produzir e ofertar, simultaneamente (ou não), bens privados e bens de clube (portanto, semipúblicos).
Um ‘porém’ importante - Obviamente, só porque uma empresa permite que você tente atingir uma audiência, não quer dizer que você conseguirá expor suas ideias livremente. Como tenho reiterado com muita frequência por aqui, isto depende da manutenção de um pilar básico de uma sociedade aberta que é a liberdade de expressão. Em outras palavras, instituições importam.
Similares - Não posso deixar de mencionar as plataformas de dados abertos. O Brasil.IO e o Meu Querido Diário, por exemplo, têm um modelo de financiamento voluntário, com base em contribuições. Não são plataformas para autores, mas fornecem bens públicos (bases de dados, no caso do Brasil.IO) com financiamento privado com diferenciação de preços. O pessoal sabe que não existe dado aberto grátis, claro. Há que se remunerar o tempo investido neste esforço.
Destaco outro ponto: nossa produtividade aumentou tanto ao longo dos séculos que, hoje, é possível ter tempo livre para ofertar dados livres ou textos para as pessoas (e ainda escolher se o consumidor pagará ou não). Não é incrível este tal de desenvolvimento econômico? Isto tudo é feito, ainda, nas 24 horas que temos, ao longo do dia, para dormir, trabalhar, ir ao médico etc.
Finalizando… - Quem nunca estudou Economia pode achar isto tudo meio óbvio. Eu concordo. Contudo, é espantosa quantidade de pessoas que cheguem aos seus 20 anos de idade achando que o setor privado jamais produzirá um bem público (ou semipúblico). Ou que o Estado só produza bens públicos (o que é incapaz de explicar como ele produz um bem privado que é a entrega de correspondências…).
Regulador Xavier - Eu não tive irmã e, portanto, nunca fui familiarizado com parte significativa das estantes das farmácias e permaneci imune aos efeitos de alguns jingles. Resultado: só recentemente ouvi a propaganda do Regulador Xavier e, agora, a maldita música não me sai da cabeça (a bem da verdade, após uma semana, saiu da minha cabeça e, agora, sinto-me livre, leve e solto, como nas propagandas de absorve…waaaaait a minuteeeee!).
Considero até um projeto (a ser financiado por crowdsourcing) em que o jingle é executado no Carnegie-Hall, pela filarmônica de Israel (eles têm filarmônica?) com violoncelo de Yo-Yo-Ma e vocal de alguma famosa cantora lírica (alguns alegariam que a cantora deveria ser brasileira para promover a pujante e orgulhosa cultura nacional. Não me importo).
Charter Cities - Um exaustivo resumo sobre o tema. Eu sinto falta de mais pesquisadores brasileiros pensando sobre charter cities.
Economia Comportamental e seus possíveis danos - Será que a economia comportamental é uma aplicação pura e simples de ferramentas teóricas que melhorarão a vida da turma? Ou há riscos importantes para a liberdade das pessoas? Sem dúvida está na moda e anda difícil separar o joio do trigo. Sugiro o bate-papo entre Cass Sustein e Mario Rizzo sobre o tema (dica do Ronald O. Hillbrecht).
A gente se vê em breve.
A existência de rascunhos nos permite divertidas viagens no tempo. Imagine a obra final encontrando suas versões preliminares, os famosos, “agoravai_ver_9.doc” e “definitiva_ver_7.1.doc”. Quem já levou a sério uma monografia, uma dissertação ou uma tese sabe o que é isto.
Quem tem minha idade e gostava de bancas de jornais já pode ter imaginado a piada com a mistura da revista Kripta e governança. Aliás, acabo de descobrir que a Mythos andou reeditando o conteúdo da revista sob o nome (até mais intuitivo) de Cripta.
Em seu livro-texto, Mankiw prefere chamar este bem de monopólio natural. Contudo, eu prefiro a nomenclatura mais intuitiva que foi alvo de estudos de gente muito boa como James Buchanan e Todd Sandler.
Eu concordo com o Ivo, mas é curioso como muitos, até então, considerem o Direito como um bem público. O argumento está no último capítulo de seu mais recente livro e a culpa é dos romanos (spoiler).
Lembrei-me até de um texto anterior, nesta mesma newsletter…
Na minha adolescência isto era um pesadelo. Por quê? Porque eu gravava músicas em fitas cassete. Comprar discos era um luxo e, portanto, a maior parte das gravações tinha que vir de programas de rádio. As propagandas faziam a gente desenvolver certa habilidade no manejar dos botões do rádio-gravador…
Ver seu verbete Public goods theory no The Elgar companion to Austrian economics, da Edward Elgar, lançado em 1994.
Para ele, o acesso à lei seria um bem público, o que nos leva de volta ao argumento de Gico Jr.
Ah sim, e você pode criar vários planos pagos de assinatura.




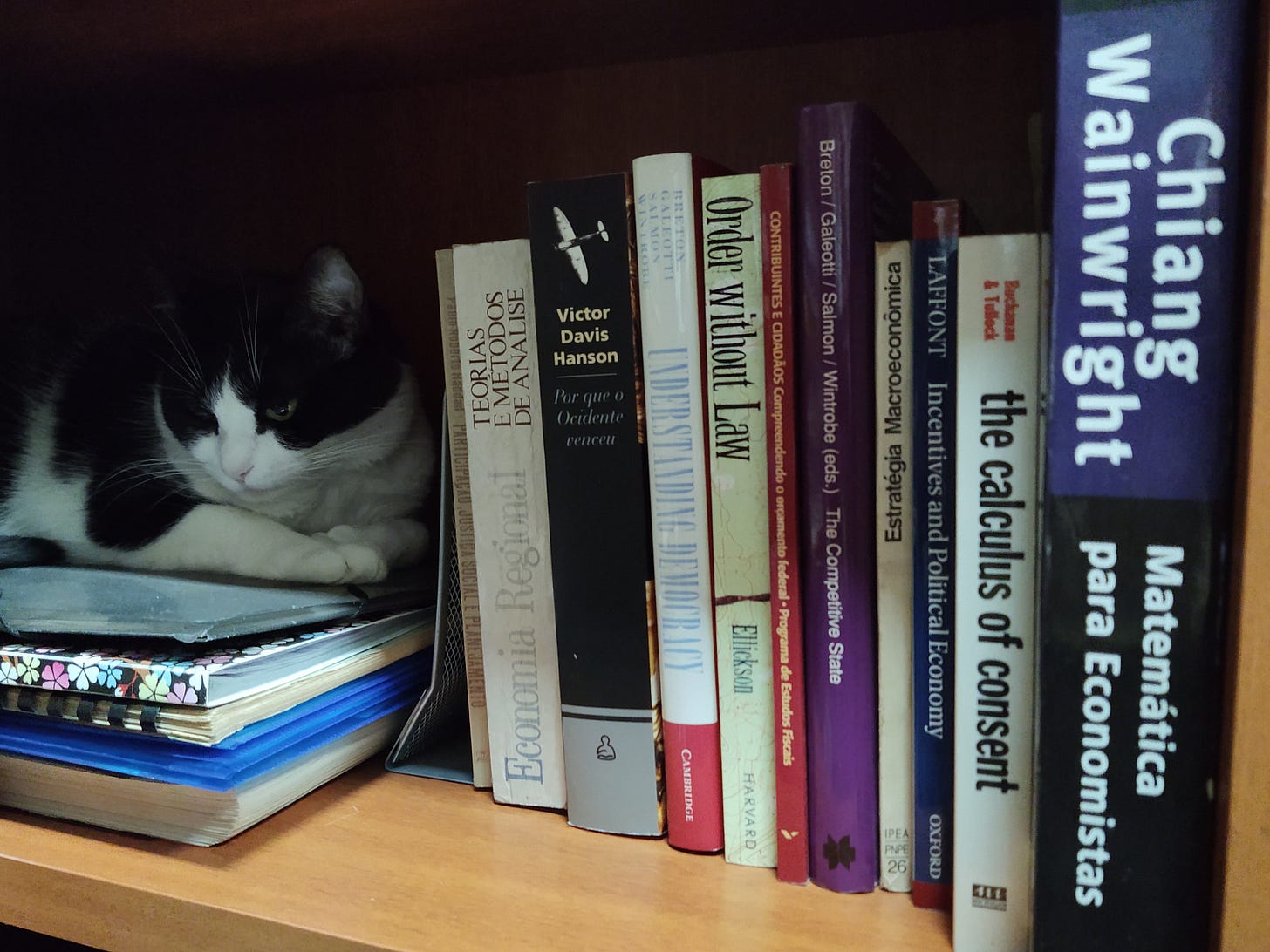
Muito bacana, Shikida! O livro Escaping Paternalism: Rationality, Behavioral Economics, and Public Policy do Whitman e Rizzo merece nossa atenção.